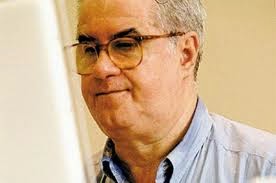Em artigo para o Estado, o cientista político e professor da USP analisa o fato histórico a partir de experiências pessoais que lhe marcaram a vida nos últimos 50 anos
O Estado de S. Paulo
50 anos atrás, no dia de ontem, um golpe de Estado derrubou um presidente eleito que, malgrado sinais ambíguos sobre os seus reais objetivos políticos estratégicos, era o mandatário legítimo e constitucional do país. O que aconteceu depois, nos 21 anos seguintes, marcou profundamente a sociedade brasileira com a supressão da liberdade, a eliminação da competição política legítima e a instalação do terror do Estado.
A tortura e a morte de inúmeros brasileiros até hoje traumatizam a sociedade e, mais grave, é algo sobre o qual a nação ainda não tem pleno conhecimento. A memória, como se sabe, é um dos principais recursos com que conta uma sociedade para se rever criticamente e para superar os seus impasses ou os seus erros, e quando ela é negada isso deixa um vazio que afeta o processo de autoconsciência crítica que queremos ter de nós mesmos, e dos esforços para aperfeiçoar a nossa própria civilização. A ideia de revanchismo, nesse contexto, é uma ideia fora do lugar, mas o país precisa conhecer plenamente a verdade de sua história recente, e dos fatos que tanto impacto tiveram no nosso presente e ainda terão no futuro. Esse ajuste de contas com o passado não é irrelevante e, por isso, têm enorme importância o trabalho que estão fazendo por todo o país as Comissões da Verdade.
Aos 50 anos do golpe, dou um pequeno testemunho sobre duas experiências que me marcaram pelo resto da vida e que, de certo modo, ajudaram a definir os meus próprios horizontes profissionais futuros. Em 30 de março de 1964, véspera do golpe, como militante da Ação Popular que eu era - um partido político que nascera anos antes ligado às transformações do mundo católico sob influência de João XXIII no sentido de comprometer os cristãos com os desafios e as contradições do mundo em que viviam - eu vivi uma experiência sui generis: como a sede da União Paulista dos Estudantes Secundaristas - UPES, da qual eu era presidente desde 1963, tinha sido invadida pelo DOPS, assim como a sede da União Estadual dos Estudantes - UEE, e de alguns sindicatos em que militavam outros membros da AP -, o que na ocasião era designado como o Comando Estadual do partido - do qual eu fazia parte - foi obrigado a se reunir em uma Kombi da UEE com o objetivo de avaliar a situação política. O golpe estava prenunciado e nós queríamos entender o que realmente acontecia para saber se podíamos fazer algo.
Os militantes do Comando da AP, reunidos dentro daquele veículo, percorreram várias regiões da cidade para ter ideia sobre se havia alguma resistência da população - pessoas comuns ou grupos organizados - ao que se pressentia que iria acontecer. E, não sem um amargo sentimento de decepção, vimos que afora as nossas próprias apreensões, e os sinais de movimentação militar do que iria ocorrer no dia 31 de março, a vida seguia normal para a maioria dos paulistanos. Não havia nenhum sinal de mobilização popular ou de protesto contra o que se prenunciava desde o comício de 13 de março no Rio, na Cinelândia, e o apoio do presidente Goulart à revolta dos sargentos. A AP não era nessa ocasião um partido de massas que pudesse, por exemplo, convocar uma grande mobilização ou algo parecido, nem percebíamos que as outras forças de esquerda, como o PCB, o pudessem fazer para confrontar o que vinha pela frente; e o governo e os seus apoiadores estavam claramente aparvalhados.
O que vimos, no dia seguinte, no entanto, quando já começávamos a nos dispersar para escapar das perseguições da polícia - e, no caso do movimento estudantil, dos membros do Comando de Caça aos Comunistas - foi a inesperada e surpreendente mobilização de cerca de ½ milhão de pessoas que, ao contrário de tudo o que queríamos, se manifestaram em apoio ao golpe que já tinha sido dado. Embora a maioria da população permanecesse em silencio, aquela manifestação de classe média - e talvez também de alguns setores populares - dava alguma legitimidade popular ao golpe, e os golpistas souberam se aproveitar bem daquilo.
Ficou evidente, àquela altura, que a situação política do país mudara drasticamente. A democracia não estava mais ameaçada, como vinha se prenunciando há meses, ela estava de fato derrocada, embora não fossem claras as perspectivas do que iria ocorrer nos meses e nos anos seguintes. Ainda que de forma incompleta ou limitada, a minha primeira reação, além do medo provocado pela perseguição da polícia e a necessidade de fugir de São Paulo - fui acolhido por alguns dias em São Sebastião por um casal de simpatizantes da AP que não me conheciam, nem eu a eles, e que me ensinaram o valor da solidariedade em situações-limite - foi perceber que os temas e as preocupações caras a nós, militantes políticos e os dirigentes dos movimentos organizados, estavam longe de afetar os sentimentos e o comportamento usual da maioria da população. A democracia e a possibilidade de serem adotadas e implementadas as reformas de base de que falava o presidente João Goulart, embora apoiadas por alguns setores sociais, não mobilizavam as pessoas ao ponto de levá-las a enfrentar os que se moveram contra o governo e contra as liberdades democráticas. Talvez as pessoas tivessem medo, mas certamente não tinham estruturas de oportunidade para participar, se quisessem.
A minha conclusão, talvez algo apressada nas condições da época, foi que, de um lado, nós da esquerda talvez não conhecêssemos devidamente a sociedade que queríamos transformar; e, de outro, que em alguma medida a população não percebia nem o governo, nem a própria democracia como algo realmente ao seu serviço ou operando em seu favor. Não penso que identificasse sinais de oposição da população à democracia, mas, mais importante do que isso, tampouco identificava sinais de um apoio franco e aberto ao regime democrático. Essa percepção, em grande parte apoiada na impressão de divórcio entre o que queríamos fazer, como militantes de esquerda, e o que parecia que eram as preocupações das pessoas comuns - continuar tocando as suas vidas normalmente - me alertou para a necessidade de conhecer melhor a sociedade brasileira, e para o que mais tarde, depois de já ter me formado no curso de Ciências Sociais da USP, eu identifiquei como o domínio da cultura política. Percebi, anos depois, que a democracia pode funcionar sem uma cultura política democrática enraizada, mas ela funciona mal nessas condições e, em alguns casos, sem essa cultura os riscos que a ameaçam podem ser maiores porque ela fica desprovida de seus defensores. Isso ajudou a definir, de algum modo, aos temas de análise política a que venho me dedicando há anos desde que me formei na USP.
Uma segunda experiência naqueles anos foi ainda mais marcante. Em 1966 eu entrei no curso de Ciências Sociais da USP e, ainda como membro da AP, coordenava colegas e trabalhava na organização do Congresso da UNE que deveria ocorrer, contra a proibição do governo militar, em Belo Horizonte, possivelmente, em um convento religioso. A polícia política continuava ativa e acompanhava a movimentação que ocorria, por exemplo, em São Paulo no Ponto de Encontro - um bar e livraria que tinha sido aberto por João Carlos Meirelles na Galeria Metrópole, bem no centro da cidade, para reunir artistas, intelectuais e militantes de esquerda. Fui preso, sob a acusação de organizar o congresso de uma organização ilegal, na saída da galeria.
Ao mesmo tempo, outros três colegas meus do curso de Ciências Sociais, também militantes da AP, mas que não estavam ligados à organização do Congresso da UNE, foram presos fora de São Paulo aonde realizavam uma pesquisa de campo. Fomos todos colocados em uma cela do DOPS, onde hoje funciona um Museu da Memória, e ameaçados de tortura - que, todavia, não ocorreu. Eu já trabalhava na Folha de São Paulo, sob a direção de Claudio Abramo, e o jornal deu uma pequena notícia sobre a minha prisão, e isso ajudou o que veio em seguida. Como os nossos pais tinham se mobilizado para contatar um advogado do PCB que defendia presos políticos, houve uma primeira tentativa de nos libertar com um habeas corpus.
A polícia, como quase sempre fazia nessas circunstâncias, nos moveu de São Paulo para um quartel da Marinha, em Santos, para evitar que o oficial de Justiça que levaria o documento do habeas corpus confirmasse a nossa presença na prisão. Ainda ficamos presos por mais uma semana, em Santos, quando tentamos fazer uma greve de fome, mas logo em seguida fomos libertados por uma nova tentativa do advogado Aldo Lins e Silva, contratado para nos defender. Ou seja, em 1966, pouco antes da edição do Ato Institucional nro. 5, que cancelou todas as liberdades democráticas e os instrumentos jurídicos de defesa existentes no país, fomos libertados e salvos do risco de tortura por um instrumento que parte da esquerda brasileira considerava uma "formalidade burguesa", ou seja, o habeas corpus. A experiência, contudo, me chamou a atenção para algo do que estava em jogo quando cessavam as liberdades democráticas; naquela ocasião, eu sobrevivi e não fui torturado.
Mas eu penso que só compreendi realmente o significado das leis e dos instrumentos jurídicos da democracia com o que aconteceu em 1971 com o meu colega Luiz Eduardo Merlino que, se não me engano, estudava filosofia na USP. Merlino era jornalista e dirigia o jornal de esquerda Amanhã dirigido a estudantes, e me convidou para colabora com o mesmo; ficamos próximos por causa dessa experiência. Merlino foi acusado de pertencer a um grupo clandestino que lutava contra a ditadura e foi preso em julho de 1971, em Santos, tendo sido torturado e morto. Para a sua família, as autoridades do DOPS informaram que ele tinha se atirado debaixo das rodas de um caminhão, e demorou anos para que parte da verdade viesse à tona, seu corpo fosse encontrado, e ele sepultado pela família. Depois daqueles dias tumultuados de julho de 1971 - quando era presidente o general Emílio Garrastazu Médici, responsável por um dos governos mais repressivos do período militar - nunca mais vi Morlino, mas a convicção que ficou marcada na minha memória foi a de que, diferente do que tinha acontecido comigo em 1966, ele tinha sido morto em 1971 porque, entre outras coisas, faltava a existência de garantias jurídicas e legais como o habeas corpus.
Até hoje ainda está presente nos debates políticos e intelectuais sobre a democracia a controvérsia em torno da distinção entre democracia formal e democracia substantiva. Os críticos da tradição liberal acreditam que a existência das liberdades individuais - que devem assegurar a liberdade de expressão, de organização e de participação - é insuficiente para garantir que o regime democrático enfrente as grandes desigualdades sociais e econômicas que marcam as sociedades complexas e divididas socialmente pela economia de mercado. O tema é importante para qualificar o debate sobre o fato de que a democracia, além dos seus procedimentos assegurados pelo império da lei, também é um regime que objetiva responder às expectativas dos cidadãos que, através do seu voto a governantes e a partidos, legitimam o funcionamento da mesma.
Mas o que as minhas experiências da juventude me fizeram compreender é que a democracia não existe sem as garantias que só o Estado de Direito Democrático dá às pessoas para que tenham a garantia da vida, da participação e da busca do que consideram melhor para as suas vidas. Eu sobrevivi à minha prisão por causa do habeas corpus, mas Luiz Eduardo Merlino, quando vigorava o AI-5, não teve a mesma sorte. Há uma relação indissolúvel entre liberdades formais e os conteúdos da democracia e, por exemplo, a igualdade social e econômica só é viável quando estão bem estabelecidos os direitos civis e políticos que asseguram que as pessoas podem agir livremente em defesa de seus interesses.
1 de abril de 2014.
José Álvaro Moisés - Professor titular do Departamento de Ciência Política/USP